
O movimento intenso e potente no território onde a cultura transpassa subjetividades e desconstrói estereótipos
POR AYRÁ SOL SOARES, BRENO RODRIGUES E EDUARDA GONÇALVES
O conceito da palavra marginal advém daquele ou daquilo que está à margem de algo. Ao longo do tempo, o termo se transformou e carregou-se de estereótipos. Para a sociedade, passou a designar o infrator, o delinquente que amedronta. Quem anda ou transita pelo território que se delineia entre a Praça da Estação, os viadutos Santa Tereza e Floresta, com a linha do trem ao fundo, se depara com a marginalidade. Não com o perfil estigmatizado que habita o imaginário social, mas sim, com um conjunto de pessoas que estão no limite do padrão espacial estabelecido, porque foram colocadas naquele lugar.
Quem observa o baixo centro de Belo Horizonte sob esta perspectiva, imerge em preconceitos e estigmas sociais e ignora uma cidade potente que pulsa, que grita, inspira e instiga. Ao fechar os olhos para o baixo centro, rejeita-se um movimento diverso, plural, multifacetado e multicultural que, apesar de estar à margem, se fez presente e cruzou fronteiras simbólicas e territoriais.
CRJ, A pluralidade de encontros que encanta
Das idas e vindas, entre Lagoa Santa e Belo Horizonte, no chegar e partir dos ônibus metropolitanos com pontos de parada no centro, Maria Íris testemunhou a rotina de trabalho agitada dos pais entre as cidades. Fruto deste movimento, mesmo residindo às margens da capital, a menina sempre esteve conectada ao centro de Belo Horizonte.

Foto: Breno Rodrigues
Aos 19 anos, relembra que a arte sempre esteve presente, assim como o entendimento do ser artístico que habitava ali desde cedo. Na infância, boa parte dos dias foi vivida na capital mineira, no que define como ‘segunda casa’, entre o Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, na região Norte de Belo Horizonte e o Centro Cultural da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no Centro da cidade.
Com os pais como inspiração, a arte foi um caminho inevitável. Foram cinco anos nos palcos, entre canto, dança e atuações, onde construiu “conexões com a cultura urbana e com o meio cultural periférico”. Na adolescência, em suas andanças entre eventos no Viaduto Santo Tereza, como o Duelo de Mc’s e articulações políticas, Maria Íris conheceu a movimentada Rua Aarão Reis e sua efervescência cultural. “Sempre vim muito para cá, mas esse senso de localização e pertencimento da cidade veio depois que vim [morar] com uns quinze anos”, conta.
A jovem não imaginava que a relação com o corredor cultural, anos depois, se tornaria tão intensa. “A gente vê um prédio e, nele, está escrito Centro de Referência da Juventude, mas a gente não sabe o que é, não sabe as dimensões”, pontua.
Não é raridade encontrar pessoas que, tal qual Maria Íris, não saibam do que se trata aquela construção de dois andares, com pintura em cor rosa, de cerca de 5 mil metros quadrados, localizado entre o Viaduto da Floresta, a Rua Aarão Reis, a Estação Ferroviária e a Praça Rui Barbosa, no Centro em Belo Horizonte.

Foto: acervo CRJ
O espaço, cercado por vidros, carrega consigo a metáfora de um lugar de reflexos, onde aquele que está fora contempla o organismo vivo e pulsante, ao passo que, aquele que está dentro, assiste à cidade, que nunca para, fechar os olhos para um território plural que é tão indefinível quanto seus ocupantes e tão caótico e intenso por dentro quanto o meio sob o qual está inserido, no baixo centro cultural.
No contexto atual, porém, o enorme espaço, cercado por grafites, pinturas e cartazes, em seu caos inspirador, deu lugar ao silêncio descomunal. A pandemia do novo coronavírus trouxe a obrigação do distanciamento social e, junto com ela, a angústia e pesar. “Está vazio… é muito esquisito você entrar aqui e você não ver um grupinho dançando aqui, uma música alta ali, as músicas se chocando, alguém tentando fazer reunião. É uma reinvenção constante e até angustiante”, revela Maria Íris.
Se caminhos familiares levaram a jovem artista até Belo Horizonte, seus ideais levaram-na até o CRJ, que se tornou mais do que um espaço de práticas coletivas. A relação ganhou contornos singulares e simbólicos. “É muito difícil a gente não se sentir pertencente aos corredores culturais e à cultura de rua de Belo Horizonte”, pontua.
A noção de pertencimento colocada pela jovem não é exclusividade, é um sentimento compartilhado, assim como este espaço da cidade.
ENTRE O LAR E A RUA, MIGUILIM
O território no entorno do Centro de Referência da Juventude é ocupado por muitos e diversos corpos que hospedam e compõem o cenário do baixo centro. No prédio onde, hoje, opera o CRJ, no passado, havia um importante edifício para a população desassistida. Vinte e sete anos atrás, foi desenvolvido o Centro de Referência à População de Rua (CREAS POP), popularmente conhecido como Miguilim, que acolhia a parcela marginalizada da população.

Foto: Ayrá Sol Soares
O espaço possui ligação histórica e humana com a cidade e com a juventude. Em 2012, o prédio foi fechado pelo Executivo Municipal e deu lugar ao CRJ, que integraria o Corredor Cultural Praça da Estação. Com o fechamento do Miguilim, houve a reconfiguração territorial, mas a população em situação de rua continuou ocupando o espaço público, sendo elemento fundamental do sistema.
O baixo centro é um território diverso, onde o indivíduo é agente ativo, estabelece intervenções e constrói e desconstrói relações sociais a todo o momento. A dinâmica é intensa e, geograficamente, o diálogo acontece de forma respeitosa. Mas há também, no entorno da Praça da Estação, um espaço de conflitos e de disputas simbólicas. Na madrugada, o fluxo se modifica e o que estava obscuro, agora está em foco.
Do Morro das Pedras, “na rua Carmo, número 125, voltado para o lixão”, ao Centro, a luta pelo bem simbólico levou um jovem negro, oriundo da periferia, ao baixo centro cultural. Felipe Saboia, “um preto disposição, favelado, filho da Graça Saboia, irmão da Maíra e pai da Luiza”, conheceu a outra face do Centro, a Belo Horizonte que acorda quando a cidade dorme.
O jovem negro, alto e magro que jogava basquete no Colégio Pedro II, no bairro Carlos Prates, na região Noroeste da capital mineira, começou a ter, na adolescência, a percepção de o que a cidade é. “Ali não oferece o que eu quero, eu não tenho acesso”, destaca. Felipe, que acompanhou desde ‘moleque’ sua mãe, uma mulher preta, em seus ‘corres,’ convive de forma íntima com a política e a luta por direitos.
Em busca de uma construção social coletiva, em 2016, se uniu aos movimentos juvenis e ocupou, durante vinte e oito dias, juntamente com outros 257 jovens – maioria negra – o Centro de Referência da Juventude. “Durante a ocupação, comecei a ter a percepção realmente do que era o Centro”, conta o jovem. Enquanto a ocupação ocorria de forma pacífica dentro do CRJ, o cenário era diferente fora dele.
“Fora, nós assistimos três mortes aqui. É um lugar muito forte, até energeticamente, muita treta rola aqui. Vários corres rolando, tudo ao mesmo tempo. A Belo Horizonte que eu vivo é isso, é intenso”, relata. Mas, se nem tudo são flores, Saboia recorda, com satisfação, do denominador comum que sublinha a força do corpo social. “Na ocupação foram várias tribos, passaram por aqui hippies, rastafáris, os manos da quebrada e as manas transexuais, chegou todo mundo”, finaliza.
O movimento insano que concebe a dinâmica do baixo centro é singular; foi naquelas imediações que um jovem negro da zona norte da cidade buscou entender o sentido de construção política coletiva e decidiu registrar a história. O olhar voltado para a Rua Aarão Reis, até então como cidadão e frequentador, aguçou a curiosidade e o lado pesquisador de Bruno Vieira.

Foto: acervo pessoal/ Bruno Vieira
Aos 34 anos, o mineiro que hoje vive em Recife carrega consigo mais do que a dissertação, que se tornou livro; ele guarda a relação íntima com o Centro de Referência da Juventude e a descoberta do fazer político “além dos limites, pensando que a cultura é fazer político, arte e literatura”, no olhar para dentro.
Jornalista de formação, mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e doutorando em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Bruno foi olhos e ouvidos atentos da articulação. “Acho que, para tudo na vida, a gente tem que saber do histórico e da história, tem que olhar para trás e para a frente”, ressalta Bruno.
Os botecos entre a Avenida dos Andradas e Rua Aarão Reis, ao lado do Edifício Central, onde desde cedo, as máquinas de música transmitem o som ambiente, dão o tom da vida boêmia e popular que constitui o baixo centro. Bruno se lembra com detalhes e nostalgia das aventuras do Viaduto Santa Tereza ao bar e cabaré Nelson Bordello. “Quando tinha lá atrás Nelson Bordello, lá em 2010, 2011, ficávamos até 4 da manhã resenhando. Não entrava para ver o show; muitas vezes, ficava na porta tomando cerveja, conversando… Saía do Duelo e emendava no Bordello, que coisa interessante é isso, experimentar a rua”, conta.
As interseções do baixo centro cultural tornaram-se ponto de encontro e reduto alternativo da cidade, que ultrapassaram o limite da expressão cultural na luta pela reivindicação de direitos. “Da declamação de poemas, passando pela batalha de RAP aos saraus, “por que é que isso não pode ser considerado político? Isso é política, você está ocupando espaço, você está mobilizando pessoas, você está discutindo temas. A agenda é feita nas ruas”, enfatiza Bruno.
Em 2016, encontrar ganhou novo sentido graças às mobilizações socioculturais. Àquele ano, no intenso processo de ocupação do CRJ, diferentes vozes lutavam por um único objetivo: a abertura do espaço para a juventude. “Penso que a cultura no que tange à ocupação dos corpos, de estar nesses espaços, diz mais do espaço do que as pessoas”, diz.
A tomada começou anos antes da ocupação, sendo essa um acúmulo de outros debates. O equipamento público, fruto de luta política da juventude, tem sua construção delineada em três momentos: quando a ideia do Centro de Referência da Juventude (CRJ) é concebida, em 2006; no retorno da pauta do equipamento, em 2011 e no embate, resistência e ocupação deste território, em prol da juventude belo-horizontina. Na visão de Bruno, a ocupação ‘foi exitosa’, com a conquista da abertura do CRJ, a efetivação de um comitê gestor por uma gestão compartilhada.
A LUTA PELA LIBERDADE, MESMO
QUE TARDIA
Acolhimento é a palavra. Assim, “um jovem negro, nordestino, que foi criado em Minas Gerais”, define o espaço de todos: o Centro de Referência da Juventude. O menino que chegou a Belo Horizonte ainda criança com a família sempre foi apaixonado pela capital mineira, a cidade que, como enfatiza, ‘o acolheu’. “O envolvimento com BH nasce por um sentimento de retribuição com a cidade que me acolheu, que acolheu a minha família”, destaca.

Foto: acervo CRJ
Thiago Santos, jovem oriundo da periferia, sempre esteve no limite entre Belo Horizonte e Contagem. Em sua residência, onde assistia ao seriado americano ‘Todo mundo odeia o Chris’ (Everybody Hates Chris), desenvolveu sua consciência racial, política e coletiva. Com brilho nos olhos, faz questão de frisar: “sou a continuação dos sonhos dessa galera que saiu do Nordeste para minimamente trabalhar”.
Antes de fazer parte do contexto, o jovem não tinha noção do que se tratava o fluxo de pessoas e eventos que resistia no baixo centro cultural. “Pessoas que não fazem parte desse cotidiano, no dia a dia, não entendem o que está rolando, não entendem qual que é o processo de construção”, diz. A relação política fez com que a conexão com o centro ocorresse de maneira natural.
Em 2016, Thiago se articulava com outros grupos, mas com o olhar atento voltado àquele espaço ao lado da Praça da Estação. Para o jovem, ocupação vai além de estar no espaço, pois, como reforça, “ocupação a gente faz diariamente, inclusive, até mesmo nas ruas. Inclusive, [para] esses corpos que não são tão aceitos dentro da sociedade, andar pela rua é muito perigoso”, destaca.
Assim como Maria Íris, Thiago não conhecia o Centro de Referência da Juventude, mas a conexão foi implacável. “Dentro desse processo de ocupação, sempre sentia essa necessidade de saber: “o que é o CRJ, qual é o tipo de debate, de que maneira que a gente poderia fazê-lo”, revela.
Um corredor cultural que abrange vozes plurais e diversas, que lutam em prol de um objetivo comum: a construção de uma cultura coletiva, inclusiva, periférica, urbana, marginal e popular. “Obviamente que nem tudo são flores, a gente está falando da rua. Por mais que seja um corredor cultural, em diversos momentos a gente também é atravessado dentro dessas pautas”.
“É o corredor que mais ensina para Minas Gerais,
o que é um processo de acolhimento, processo de coletividade e o que está escrito na nossa bandeira do estado de Minas Gerais, que é a luta pela liberdade mesmo que tardia”.
Hoje, inserido na realidade das dinâmicas sociais existentes no baixo centro cultural, como membro do comitê gestor do Centro de Referência da Juventude, Thiago reforça a importância de um espaço multicultural e plural para a cidade. “A gente só encara um espaço público como seu quando você de uma forma, inclusive, individual, é aceito nesse espaço. Para você, de uma forma individual, ser aceito dentro do espaço, precisa ter um coletivo que entenda que todo mundo precisa fazer parte”, finaliza.
Um espaço onde há protagonismo. Seja no grande teatro de arena Dênis Barracuda, onde grupos dividem as apresentações e ensaios entre passos de danças urbanas, como o hip-hop ou artistas circenses que fazem acrobacias nas alturas em panos acrobáticos amarrados aos guarda-corpos do espaço; ou no anfiteatro, onde outros grupos ensaiam suas peças ou realizam reuniões e seminários, muitos são os corpos que se expressam, em suas mais diversas formas e linguagens.

Foto: acervo CRJ
O espaço é relacional e o sentido de acolhimento que existe e resiste por trás do Centro de Referência da Juventude faz com que as pessoas fiquem e se identifiquem em um espaço de manifestações artístico-culturais. “O CRJ é de todo mundo, desde que não fira os direitos humanos básicos e essenciais, desde que você não seja racista com alguém lá dentro, machista, lgbtfóbico. Desde que você respeite”, destaca Bruno Vieira. O ponto de encontro das juventudes, palco da expressão do povo. O Centro de Referência é contraste entre o que foi, o que é e o que será.
“Que o CRJ seja essa ferramenta de encantamento. Para quem não conhece, que possa chegar lá e se encantar, no sentido do deslumbramento, no sentido de: poxa, isso é para mim, isso é meu”.
NARRATIVAS PRETAS
Em 1978 nasce Alexandre de Sena. Da pele preta e cabelo vermelho queimado de sol, entre as brincadeiras de pipa e mergulhos no córrego que passava ao fundo de casa. Na periferia do bairro Goiânia, região nordeste de Belo Horizonte, em que viveu bons anos, foi onde conheceu o teatro, arte que tem sido presente nas andanças de sua vida.

Foto: Pablo Bernardo e Segunda Preta
Os caminhos até o lugar que se encontra hoje, enquanto um dos coordenadores do Teatro Espanca, foram a passos lentos. Conjugado aos “paralelos” da rotina, o gosto pelo teatro refletiu nos trabalhos e atividades realizadas. “Trabalhei como diagramador de um jornal comunitário e de alguma forma eu enfiava teatro ali no meio”, relembra.
Foto: Pablo Bernardo
Os mesmos espaços que serviram de formação para o ator, como o Palácio das Artes e o curso de licenciatura em teatro, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), trouxeram pontos em comum: um corpo negro em ambientes brancos, de ideias e conhecimentos eurocêntricos com os quais não se identificava.
Na contramão, Alexandre decide usar as ferramentas “reconhecidas como efetivas e verdadeiras”, como aponta, em conjunto com os aprendizados de uma realidade alternativa à apresentada pela academia. Em 2015, quando entra, efetivamente, no Espanca, propõe-se, então, a pensar novas possibilidades para esse espaço, o qual já contribuía em operações de iluminação, trilha sonora e participações em espetáculos realizados na casa.
A região do baixo centro, que acolhe o teatro desde 2010, é também um espaço familiar para o artista, que tantas vezes passou pela rede ferroviária para visitar Rio Acima, cidade natal de sua mãe. As ruas de pedra da Aarão Reis trouxeram um gosto nostálgico ao artista, que se reconheceu nesse espaço. “Talvez por causa da minha história, eu começo a me identificar com as pessoas que circulam nessa região, atentar a quem são e as cores delas, porque querendo ou não, um recorte da minha vida também passou por aqui”, pontua.

Foto: Pablo Bernardo e Segunda Preta
O diálogo com a rua, suas nuances, avenças e desavenças compõem o que o Espanca, que esse ano, completa 10 anos de existência, representa hoje: um espaço de emancipação das narrativas negras e, como colocado por Alexandre, “sensível às liberdades e às existências”. Pelo chão quadriculado preto e branco do Teatro contam-se histórias de uma cultura marginal silenciada pela cidade, mas potencializada pelas pessoas que as produzem.
Projetos culturais importantes da cidade surgem no Teatro Espanca, como a Feira Mercado Negro, com empreendedoras e empreendedores de BH, a Segunda Preta, à caminho da sua 9ª edição, com apresentações em diferentes áreas, como dança, performances, artes plásticas, teatro e cinema, além do Slam Clube da Luta, a primeira competição de poesia falada de Minas Gerais.
QUE QUILOMBO É ESSE?
Parida em uma mesa de bar. Assim deu-se o nascimento da Segunda Preta, fruto das articulações de artistas negras e negros de BH, reunidos com um intuito comum: a possibilidade da experimentação. Ao escolher a área artística, Andréa Rodrigues, atriz negra e integrante do coletivo, entendeu a dicotomia entre a arte e um corpo preto. “A gente não tem essa possibilidade da experimentação. Você vê muitos artistas brancos que morrem experimentando, eles vivem em uma eterna experimentação do trabalho, a gente não tem essa possibilidade”, enfatiza.

Foto: Pablo Bernardo e Segunda Preta
O coletivo, que cria por meio da gestão compartilhada um espaço de acolhimento e identidade para quem produz e participa das atividades, pensou desde a sua criação em elementos e dinâmicas que contrapunham o pensamento comum à produção cultural da cidade. “Segunda Preta”, além de ter relação com o dia peculiar escolhido pelo grupo para os encontros, faz referência ao Orixá, Exú, que abre o caminho, “a gente não faz nada sem Exu”, explica Andréa. “Ele é movimento e quando a gente entende que nós somos um coletivo de movimento, aí que não faz [sentido] não ter essa referência. Essa referência não vem, ela é”, afirma.
Atualmente, com o contexto da pandemia do novo coronavírus, o coletivo está com sete integrantes fixos, mas a mudança na quantidade de pessoas não altera princípios norteadores do grupo, citados pela artista, que são as decisões tomadas coletivamente e a compreensão das diferenças de cada indivíduo para a continuidade do movimento.
“A gente só é porque somos indivíduos, somos singulares e a gente consegue, nessa singularidade, formar um coletivo”.
Apesar de ser um espaço de união entre pessoas e artistas negras(os), o coletivo questiona-se sobre as formas de existência da Segunda Preta enquanto um quilombo, sem o sentido idealista colocado a esse local. “Que quilombo é esse? Como é esse processo? Nós somos um quilombo? É uma situação de aquilombamento? Como a gente trabalha isso sem romantizar uma coisa que é concreta, física e inclusive negligenciada socialmente?”, reflete.

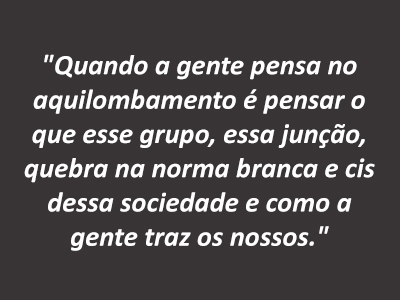
Foto: Pablo Bernardo e Segunda Preta
As dinâmicas durante as Segundas refletem a iniciativa do coletivo em criar um espaço que agregue pessoas de Belo Horizonte e região metropolitana, que se identifiquem com os trabalhos realizados no Espanca. Uma das iniciativas é a diferenciação no valor da entrada para quem mora fora do trajeto da Avenida do Contorno, no intuito de facilitar o acesso à região central, ao pensar nos gastos com o transporte público.
O chão do Teatro Espanca preenche-se de pessoas. Entre elas, o silêncio, olhares e ouvidos atentos à palavra ainda não dita. No centro, um foco de luz revela a presença. Mais um Slam Clube da Luta se inicia.

Foto: Pablo Bernardo e Segunda Preta
Um espaço de emancipação pela auto-representação, é o que movimentos como o Slam Clube da Luta representam para Rogério Coelho, slam master, poeta e articulador que iniciou a primeira competição de poesia falada de Minas Gerais, em 2014. O artista reitera, no entanto, que não inventou nada, mas que usou de sua vontade e disponibilidade para criar um espaço onde as pessoas pudessem “expandir suas potências e serem ouvidas”, explica.
Em 2003, quando se formou em letras, teve seu primeiro contato com a poesia marginal ao encontrar, em uma banca nas proximidades do Edifício Maletta, um livro do autor Ferréz. O dialeto da periferia, nu e cru, como destaca Rogério, foi ponto de identificação com suas vivências enquanto morador da periferia da região do Barreiro, espaço que o acolheu após mudar-se de São Paulo, sua cidade natal. “O que mais me chama atenção nesse lado da poesia marginal é essa marginalidade que pode ser contada por quem a representa e por quem é representado”, pontua.
A ideia de um espaço aberto à escuta e à união entre as(os) poetas e a plateia é resultante de uma percepção coletiva que foi sendo construída no decorrer da história do Clube. O sentimento de competição acirrada e a ideação de ganhar ou perder, ser melhor ou pior, hoje, elabora-se com outro olhar. Para o poeta, o sentimento de melhorar a si própria(o), prevalece sobre querer ser melhor que a(o) outra(o).
“Como se compete com uma coisa subjetiva, às vezes abstrata,
às vezes testemunhal? Não se compete, mas em si,
compete. Compete porque estamos
aqui, compete essa troca”.
Entre o improviso, o exercício e a vivência, a(o) poeta coloca-se em risco. Os movimentos, gestos e expressões compõem as performances das poesias faladas que, no encontro com o público, recriam-se em múltiplas possibilidades. “A performance para mim é aquela que joga com o risco e tem o risco como segurança”, afirma Rogério.
Ainda que a poesia seja um exercício, vários fatores influenciam na forma como a troca de palavras se dá. A notícia do dia, a temperatura, se a pessoa comeu ou não, se veio do trabalho ou outro lugar, são alguns dos exemplos citados pelo poeta que influenciam diretamente no momento de apresentar-se.
“É impossível querer se eximir estando com o corpo em cena, a poesia falada tem esse movimento irredutível da presença de um corpo. Se ele não está em risco, não tem presença. Ele não tem presença, não tem contato, não tem olhar, não tem a garantia de que as pessoas vão acreditar que aquilo que eu estou te falando é verdade. É a verdade que presentifica ali naquele momento”, finaliza.
O “encontro pela palavra” e o gosto pela poesia geraram frutos. Desde seu início até hoje, mais de 60 edições da competição já foram realizadas, além do Slam MG, etapa estadual do encontro e participações em eventos, como o Festival de Arte Negra (FAN), em 2019.
Um espaço de “ser”: é como JP define o baixo centro. A primeira vez que recitou para mais de quatro pessoas foi no Teatro Espanca, após descobrir os encontros do Slam Clube da Luta, pela internet. Desde então, as idas à competição, durante as quintas-feiras, tornaram-se um hábito para o poeta. “Dá para contar nos dedos as vezes que não vim”, relata.

Foto: Pablo Bernardo
Apesar das diferenças no bit, encontrou no rap uma semelhança com o samba, ritmo que ouviu desde criança e que despertou o interesse pelo mundo da arte. Seu trabalho com a poesia reflete seus fazeres artísticos enquanto mestre de cerimônia, arte educador e músico. “Eu gosto de dizer que o JP é poeta, acho que ser poeta também é ser isso”, conta.
“A minha relação com a poesia é uma relação de gratidão”.
O contato com o público na hora de recitar é fluido para JP, que entende o corpo como um “instrumento da palavra”. No entanto, estar fora do palco do Espanca ou nas competições de rua trabalhando com a poesia é o mais difícil para o artista. Em um de seus versos, pontua que as pessoas entendem realmente o que é poesia quando param de romantizar ser artista e viver de arte, já que “não é um corre bonito o tempo todo”, desabafa.“Nossa realidade é difícil, estar vivo é difícil e passar por esse processo de continuar vivo, fazendo arte, é mais difícil”, enfatiza.
Para o artista, a região do baixo centro fomenta a produção cultural da cidade, além de ser o berço de grandes artistas marginais que, se tivessem estrutura para desenvolverem seus trabalhos, poderiam ter o reconhecimento de artistas nacionais. “Voz geral já tem, tá ligado, nenhum de nós está querendo voz, a gente quer ouvidos, é de ouvidos que a gente precisa”, afirma.
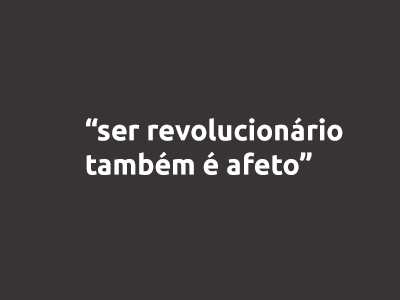

Foto: Ayrá Sol Soares
Entre as nuances de sua vida, encontrou no Espanca um espaço de afeto para além da competição. “Não é só pelo hype, não é só pela nota. Tem uma galera ali amando ver o outro recitando”, comenta. Ainda que a maioria das poesias compartilhadas fale de luta e resistência, manter esses espaços sensíveis ao afeto é importante, na percepção do artista.
“É muito isso, uma relação de família”.
Iza Reys, artista marginal e integrante do coletivo Afrolíricas, junto às poetas Anárvore e Eliza Castro, enxerga o Espanca, CRJ e Duelo de MC’s como lugares de identificação que devem ser cuidados pelas pessoas que co-habitam a região. “São espaços criados para nós e que dão liberdade para a gente. Não é todo espaço que dá para falar o que falamos no Slam”, pontua.
Foto: Matheus Andres | Da esquerda para direita as artistas Anárvore, Iza Reys e Eliza Castro.
Assim como JP, a “escrevivência” segundo Iza, veio do primeiro contato com o Slam Clube da Luta e da possibilidade de descoberta de um corpo que converse com a poesia, segundo ela. Com raízes quilombolas e do norte de minas, traz em seus escritos as vivências de uma mulher negra, atravessada por sua ancestralidade.
A poeta relembra o silêncio que preencheu o Teatro em sua primeira apresentação e que traz agora um gosto nostálgico, por estar afastada do palco devido à pandemia. “Ninguém nunca parou para me escutar desse jeito, um silêncio que é muito gostoso, nossa, que saudade!”, recorda.
As conexões criadas entre as “pessoas que vêm da margem” e compõem o baixo centro, como pontuado pela artista, constroem um senso de coletividade para quem convive e vive naqueles espaços. “O CRJ se deu por causa de ocupações de luta da juventude e, se precisar, eles sabem que vão poder contar com a gente, sabe?”, reforça.
“Eles dão valor só para aquelas poesias de Carlos Drummond de Andrade,
mas ninguém está ligado em quem é Solano Trindade, morreu aí na praça.
A gente não quer ser mais essas pessoas que morrem na praça”.
A invisibilidade da produção de artistas negras(os) da cidade junto à dupla, tripla jornada de trabalho, foram pontos levantados por Iza. “Novembro é o mês que os artistas pretos mais trabalham. É até cruel com a gente, porque a gente só come em novembro”, desabafa. “Ao mesmo tempo em que a gente está ali fazendo apresentação artística, a gente também está pintando uma casa, sendo pedreiro, trançando cabelo, então é sempre isso, sempre fazendo dois, três em um. Não que a gente queira estar nesse lugar, mas eles colocam a gente nesse lugar de desvalorização mesmo”, critica.
Organizado pelas Afrolíricas, o AfroSlam caminha contra a corrente e estimula a valorização de artistas pretas e pretos da cidade, sendo uma “ponte artística de africanidades”, explica Iza. “A gente mobiliza não só ações sociais, é mesmo uma responsabilidade com a comunidade. É uma responsabilidade com essa ponte de informação que a gente cria e se eu estou conseguindo acessar a informação, eu vou repassar e minha forma de repassar é fazendo poesia”, finaliza.
ENTRE A NEGLIGÊNCIA E O AFETO
“Por que a nossa existência, o nosso movimento te ofende tanto?”
As tentativas de gentrificação do baixo centro revelam o paradoxo entre um espaço que fomenta a produção cultural da capital, mas que segue ameaçado por interesses de outros personagens da cidade. Ao pensar nas dinâmicas dos territórios e no acesso e democratização de espaços públicos, Andréa é pontual: “Eu não acredito em democracia. Ela é uma bela anedota”, afirma. Para a artista, falar sobre democratização é refletir para quem ela é pensada.

Foto: Pablo Bernardo e Segunda Preta
“Toda vez que falam de redemocratização é porque corpos já normatizados dentro da sociedade chegam naquele lugar, isso não é democratização, isso é mais do mesmo, eles ocupando nossos espaços”.
O processo de gentrificação, para a atriz, inicia-se na construção da “cidade planejada”, que além de não comportar o baixo centro, restringe o acesso de pessoas periféricas aos pontos estratégicos de Belo Horizonte. “É um plano que já começa falido”, afirma. “BH já foi criado assim, com essa referência de delimitação.Não chegaram aqui e era só mato, tinha uma população que morava e eu fui arredando para construir a minha tão sonhada cidade”, ressalta.
o CRJ está aí, que o Duelo de MC’
resiste também.
Eliza Castro, artista independente e integrante das Afrolíricas, enfatiza a importância de a cidade ter responsabilidade com o baixo e, acima disso, respeito. “É muito fácil chamar a gente para ocupar a Universidade”, critica. “A gente está ali fazendo arte, alimentando o coração da cidade”, afirma.
Entender o território como um lugar de composição e não ocupação é estabelecer que os indivíduos integram os espaços em que estão, segundo Rogério, que cita as ideias de Bia Medeiros, performer. Segundo ele, partir da ideia de ocupar é dizer que algo não é nosso, quando é, ainda que seja negado a determinada parte da população. “A gente precisa caminhar sempre por esta composição urbana, entender que um sarau, ele não está intervindo, que um slam compõe um lugar; um bloco de carnaval, uma atividade de teatro, ela deveria estar ali e não está por algum motivo. Então, sim: é muito importante que seja feito aqui e é muito importante que se faça nas periferias”, explica.
“É fazer com que isso se desconstrua, que haja espaços de referência que não seja o Palácio das Artes, seja o Teatro Espanca”.
Performance “Até os filhos do urubu nascem brancos” realizada na Segunda Preta | Foto: Pablo Bernardo e Coletivo Segunda Preta
A cultura marginal que se auto sustenta no baixo centro de Belo Horizonte diz de uma cidade que fecha os olhos à realidade e traz no silêncio a negligência com os espaços e pessoas que compõem esse território. Das vozes entoadas pela Aarão Reis, criam-se laços e conexões que dizem de afetividades ancestrais e de uma história invisibilizada, mas não esquecida.
“UMA IDEIA, UMA ATITUDE QUE FEZ UMA REVOLUÇÃO”
Em junho de 2007, é instaurado um dos movimentos, que vinha a ser uma das maiores mobilizações de expressão artística e cultural da cidade de Belo Horizonte. Jovens se encontram em uma despretensiosa roda de duelos de rima no marco zero da cidade, a movimentada e expressiva Praça da Estação. No lugar, nascia o Duelo de MCs. Espaço onde os jovens queriam disseminar a cultura Hip Hop, em um espaço público para transpor a cultura de rua e terem um ponto de encontro.

Foto: Carlos Hauck
No primeiro momento, as primeiras rimas já são interrompidas pela Guarda Municipal, em que a ação de aglomerar pessoas não podia ser feita sem autorização, sem o processo de alvará; ocorre a mudança número um das batalhas. O espaço no marco zero, no qual o movimento foi iniciado, viria a se mudar para ao lado do Miguilim, onde hoje é o CRJ – Centro de Referência da Juventude. As ruas que ali foram tomadas, em breve se tornariam pequenas para a dimensão que viria a se tornar a modesta primeira noite de batalhas de rimas.
Os dez jovens que se reuniram naquela sexta e improvisaram as primárias palavras pensavam apenas em um espaço para encontrar aventura e diversão; não sabiam a dimensão que aquele movimento tomaria. A energia incrível que ascendeu para os presentes viria a se propagar por todos os cantos da cidade. Na segunda sexta, a ação dobrou; na semana seguinte, o movimento triplicou. Era o Hip Hop se disseminando por meio das batalhas de rima. A juventude propaga a cultura, a ocupação do espaço público, o viver e sentir da arte.
No seu primeiro momento, se propagou pelas ruas largas de concreto da Aarão Reis. Agora, em decorrência das chuvas de verão, o olhar se voltou para as marquises de concreto do Viaduto Santa Tereza, espaço propenso para o Duelo de MCs e o recinto amplo para a cultura Hip Hop e seus quatro elementos: breaking – abrangendo todas as danças urbanas -, grafite, o MC e o DJ. O Viaduto agora se torna o lugar de pertencimento, de ocupação e domínio das batalhas de rima no centro de Belo Horizonte. Hoje, depois de 13 anos se torna uma grande responsabilidade.
Léo Cesário, um dos fundadores do Duelo de MCs, estava presente naquela primeira sexta-feira na Praça da Estação. Criador do Duelo e fundador da organização Família de Rua, junto com Pedro Valentim, o PDR e Monge, ele destaca que não tinham ideia que iam seguir promovendo o movimento por dois, três, quatro anos. Hoje, é um dos maiores movimentos do espaço público na cidade de Belo Horizonte.
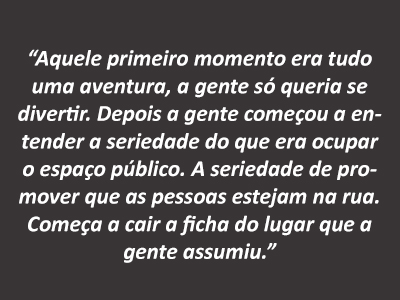

Foto: Pablo Bernardo
Em pouco tempo, o Duelo se torna potência em BH, sendo um dos maiores pontos de encontro no baixo centro cultural, graças às postagens de batalhas no novo, mas potente canal de reverberação de vídeos, o Youtube. O duelo vai ganhando notoriedade, projeção na mídia e grandes expectativas em cada encontro naquele sexto dia da semana. O movimento acaba sendo uma onda que foi atingindo todas as regiões do país.
Pela imensidão e propagação da cultura de batalhas de rima, a organização Família de Rua desenvolve, em 2012, o “Duelo de MCs Nacional”, o maior encontro de batalhas de todo o Brasil. Suas edições anuais levam de quatro a cinco mil pessoas para debaixo do viaduto. Já em 2018, o viaduto não suporta o sucesso do Nacional, com sua primeira estrutura fora das marquises de concreto. “Em 2018 a gente teve que sair debaixo do viaduto. Foi um choque lidar com o processo que a gente não tinha lidado ainda: montar um palco, uma estrutura de evento para fechar uma rua”, afirma Léo Cesário.

Duelo de MC’s Nacional 2019 | Foto: Pablo Bernardo
Com o sucesso do Nacional de 2018, em 2019 o sucesso seria ainda maior. As batalhas de rima regressam para o berço de onde tudo começou. O Duelo de MCs Nacional leva mais de 20 mil pessoas para a Praça da Estação.
A MAIOR COMPETIÇÃO DE RIMA
IMPROVISADA EM MEIO à PANDEMIA

“Já vínhamos com a expectativa de voltar a conseguir promover o que a gente fez em 2013, que era circular em todos os estados do Brasil fazendo as finais estaduais. A gente estava com planejamento de rodar o Brasil com um caminhão palco. A grande final Nacional queríamos fazer no gramado do Mineirão”, explica Léo.
Para a prevenção contra a disseminação do novo coronavírus, o projeto do Duelo Nacional é modificado para o ano de 2020. Mesmo com a mudança, a magia vai acontecer e a rima vai reverberar. No primeiro momento, houve uma curadoria para a seleção de 16 MCs, com duas mulheres garantidas para cada final estadual. Logo se inicia a votação virtual entre 14 candidatos, selecionando oito finalistas estaduais. O campeão de cada etapa estadual está na final do Duelo Nacional 2020, que se realiza em dezembro na capital mineira.
A AFIRMAÇÃO DO ROLÊ GRATUITO
Desde 2007, o movimento de rimas no Viaduto Santa Tereza e o Nacional são arquitetados de forma gratuita, em um espaço público e de acesso para todos. No começo, os olhares de Léo Cesário e componentes do Familia de Rua eram apenas voltados para a ocupação do espaço público e algo que alimentasse a veia artística, um espaço para estar junto e trocar. Mas com o crescimento, desenvolvimento e consolidação do movimento, o trabalho precisava ser rentável para atender a todas as demandas. Com isso, são promovidas leis de incentivo à cultura para fazer o rolê acontecer, para o projeto se tornar sustentável. Mas até hoje, em nenhum ano foi possível a captação de um projeto de lei para a manutenção do Duelo de MCs; apenas para projetos pontuais.

Foto: Pablo Bernardo
“O Duelo é de fato realizado sem recurso nenhum. Houve vários anos em que a gente não teve condições de captar nada, que a gente não conseguiu captar nada, a gente produziu as coisas na raça mesmo; então, ao longo dos anos foi se tornando um obstáculo”.
Mesmo com as adversidades, Léo Cesário mantém a certeza de que a ocupação do espaço público tem que ser feita de forma gratuita. “O Hip Hop ensinou que a gente tem que viver em comunidade, que a gente tem que ocupar os espaços que são nossos, fazer valer nossos direitos. Que a gente tem que conseguir mostrar para as pessoas os direitos que elas têm. Se a gente já enxerga, então vamos mostrar para quem não enxerga ainda, vamos nos unir para poder lutar pelo que é certo, o que a gente acredita enquanto sociedade, enquanto comunidade”, pontua Cesário.
Mesmo com a não captação de recursos, o Duelo se torna fiel ao seu espaço de domínio e execução da fomentação de espaços de lazer gratuitos. Por muitas vezes, houve investidas do Estado para o fechamento do espaço, colocação de catracas e cobrança para formas rentáveis.
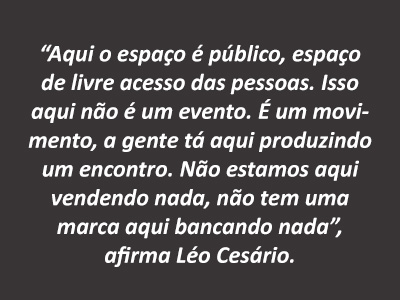

Foto: Família de Rua
DE ONDE TUDO COMEÇOU
Com a afirmação do espaço do Hip Hop em BH, o Duelo de Mc’s Nacional, em 2019, chega à sua sétima edição, agora na Praça da Estação, o ponto inicial das rimas despretensiosas que agora dominam o marco zero da cidade. Com mais de 20 mil amantes da cultura Hip Hop e das batalhas de rimas, o evento se torna evidente mais uma vez, sendo um dos maiores daquele ano. Lá, se encontra a mistura de diversos sotaques e estados Brasileiros, como Minas, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Paraná e mais. O campeão é o Cearense, Mc Charles.

As batalhas se tornam uma grande formadora de artistas, como enfatiza Léo Cesário: “As batalhas de freestyle são um grande campo de estudo. Tem artistas que conseguem enxergar como um espaço de intuição artística. Porque muitos passam por ali como uma experiência de vida e não conseguem ter essa percepção, mas alguns conseguem. Desenvolvem através dali, crescem, viram grandes artistas.”
As marquises de concreto do Viaduto Santa Tereza se concretizam como um berço de grandes rimadores que hoje despontam no cenário nacional como grandes artistas; a dupla Hot e Oreia, Chris MC e sua irmã Clara Lima, Djonga – frequentador assíduo do movimento de rimas – e Fabricio FBC; um dos jovens rimadores entusiastas que estiveram presentes na segunda sexta-feira no marco zero cidade. A partir dali, tudo mudou em sua vida.
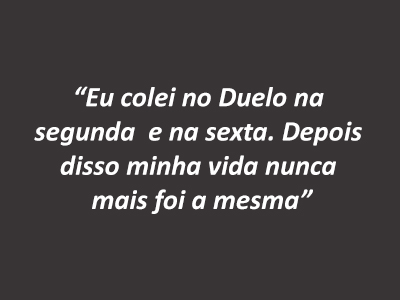

Foto: Ayrá Sol Soares
Fabricio, o FBC, hoje morador da Cabana do Pai Tomás, região Oeste de Belo Horizonte, ainda quando residia na cidade de Santa Luzia, escreve seus primeiros versos aos 14 anos. Quatro anos mais tarde, aos 18, começa a frequentar as rimas de freestyle.
Como bom mineiro, Fabrício é apreciador do bom café pela manhã e de ouvir suas playlists despreocupado. Já FBC, o Filho Bastardo do Caos, é o rapper que não compactua com várias concepções e as combate com sua voz. Sua mensagem sempre será manifestada, mas não sabe se a mudança vai ocorrer.
“O lobo mau e o lobo bom. Eu só não sei quem é o mau e quem é bom. Aí eu alimento os dois, que se um morrer eu também morro”.
Em sua infância, Fabricio queria lecionar história. Aos 15 anos, o instinto de sobrevivência e as contradições expuseram que aquele caminho não poderia ser seguido, mas o itinerário do rap, sim. Era sua única opção e, logo, sua salvação. Isso se dá pelo acolhimento do movimento Hip Hop, das rimas improvisadas e seu conhecimento adquirido durantes as batalhas de freestyle. “Acho que foi a única coisa no momento que dava pra fazer, o rap. A única coisa que eu sei fazer é isso. A única coisa que sei fazer é cantar, rimar, ouvir um disco. Eu gosto de música. Se não fosse o Viaduto eu não teria chegado aqui”, conta Fabrício.
Entre embarcar no bairro São Benedito, em Santa Luzia, até o chegar no palco de concreto do Duelo de MCs, Fabricio levava cerca de uma hora para mais uma noite de rimas e batalhas. Em breve, naquele palco, ele se tornaria um dos símbolos da cultura freestyle e um dos mais importantes que por ali já passaram.
Agora, o antigo desejo de ser professor de história daria lugar para contar outras histórias, suas histórias. Hoje, FBC é graduado no RAP. Ele possui um ep, Caos (2018) e dois álbuns solo: S.C.A – Sexo, Cocaína e Assassinatos (2018), Padrim (2019) e um álbum em dueto com a rapper Iza Sabino, Best Duo (2020). Talvez uma sala com um amontoado de cadeiras não seria o bastante para o Filho Bastardo do Caos.
Em 26 de agosto de 2012, na primeira edição do Duelo Nacional, FBC esteve entre os concorrentes. O movimento que acontece debaixo do viaduto recebe três mil pessoas, a maior presença de público desde o seu princípio, que, logo em 2019, dominaria a Praça da Estação com um público 7 vezes maior. O campeão da primeira edição é de casa, o mineiro Douglas Din (à direita), que em 2013, levaria o bi-campeonato.
Foto: Família de Rua | FBC e Douglas Din no Duelo Nacional 2012
O lugar de identificação, de afeto encontrado por Fabrício se alastra por todos aqueles que frequentam o movimento de rima e ocupação do espaço público no baixo centro cultural. FBC acredita que o movimento com início ali moldou a cidade e fez surgir várias ações sociais, sejam movimentos partidários ou culturais. A partir do Duelo central, a movimentação também acontece em todo canto da cidade, da zona leste à zona norte.
Diante de toda essa aproximação e afeto, é formado o grupo DV Tribo, composto por FBC, Djonga, Hot, Oreia, Clara Lima e o produtor e beatmaker Coyote Beatz. O grupo foi responsável por movimentar a cena do rap estadual e nacional, se apresentando na final do Duelo Nacional de 2017.

Foto: Pablo Bernardo
Mesmo que o movimento de rimas seja uma “guerra das palavras” para se chegar a um vencedor, ele se torna um lugar de troca, amparo, aceitação e celebração de sorrisos. É uma válvula de escape para a solidão, conflitos internos e extrapolar/descobrir aquilo que, na maioria do seu tempo, não pode ser, mesmo que apenas por um momento, como destaca Léo Cesário: “A gente via que aquilo era o momento das pessoas se sentirem vivas e seguras. Onde ela se sentia bem, fazia bem pra ela, mesmo que aquilo durava três horas. Era o que alimentava aquela pessoa ali.”
FBC complementa como a perspectiva após a entrada na agitação das rimas pode ser essencial para cada identidade: “Depois que a pessoa, o jovem conhece ali ele volta para casa diferente. Acho que a palavra certa é que ele se sente motivado.”
A NOVA GERAÇÃO
Por um rolê na cidade onde vivia, Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas, os seus olhares se voltaram para uma guerra de rimas de dois homens. Com isso, ela se encantou e a escolha para onde ela partiria estava feita: a vivência nas batalhas freestyle. Então, ela se muda para BH para correr atrás do sonho.

O palco de concreto do Viaduto Santa Tereza é um dos palcos de maior representatividade de rimas no Brasil, lugar onde a guerra de rimas é intensa e a coragem é um dos pilares para uma apresentação no local, como destaca Colombiana: “Eu fui fazer um rolê de conhecer todas as batalhas de BH. Levou uns dois anos até eu criar coragem e vir batalhar no duelo. Aqui a pressão é cabulosa”. O sonho vai se tornando realidade, Colombiana é uma das mulheres representantes na seletiva de Minas para o Duelo Nacional 2020.
Agora, Colombiana desponta com uma das referências dentro das rimas e fora delas. “Com o passar do tempo eu fui observando que eu não tava sendo só referência de rima, que para além da MC tem alguém com uma história de vida.
E que a partir daqui, muitas minas começaram a me procurar para trocar ideia sobre coisas que elas passam”, afirma Colombiana.
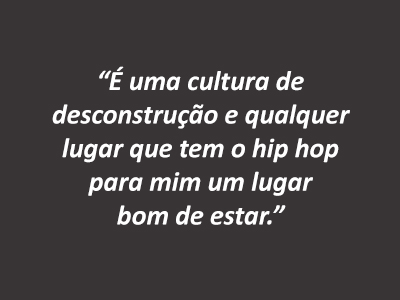

Foto: Pablo Bernardo
“Antes de ser MC, antes de ser qualquer outra coisa eu sou mulher”.
Colombiana destaca a importância da representatividade feminina no movimento de rimas, que ainda é um espaço majoritariamente masculino. Mas elas estão ganhando o espaço, onde ainda a falta de respeito é evidente, sendo vista em várias batalhas. Ela destaca que a luta é constante e que vão ocupar e batalhar pela equidade. “Se achar ruim nós vamos ocupar todos os espaços. A gente tem que tá em todo lugar”, diz.
Diante da construção, desconstrução e afirmação dos personagens, um dos representantes da nova geração do movimento é Dias, um dos representantes mineiros na seletiva para o Duelo Nacional 2020. Dias, é um reflexo do jovem Guilherme, que no momento das batalhas, pode colocar seu ego em jogo, sua agressividade e sua libertação enquanto praticante das rimas.
Um rapaz tímido, mas que se encontrou nos palcos e pisos onde praticava o duelo de rimas. Como Colombiana, Dias, antes de chegar no palco do viaduto, circulou pelas batalhas em outros cantos da cidade. Foi criador da batalha na Praça Duque de Caxias, onde encontrou um local de aprendizado e estudo. Após longos cinco meses, veio a grande estreia no palco das marquises do Viaduto Santa Tereza, uma sensação de alívio e de grandes pensamentos perante o público: “O que eu tô fazendo aqui? Que que eu fui arrumar pra minha vida?”, conta Dias.
tem gente que tá abraçando isso”.
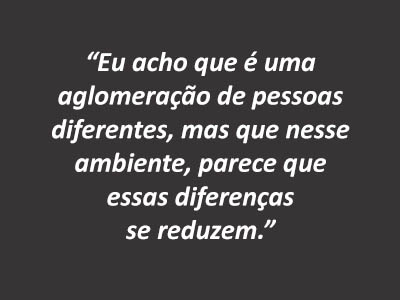

Foto: Ayrá Sol Soares
Diante da mudança das regras para o Duelo Nacional 2020, Dias foi um dos escolhidos para a votação popular na internet e logo, o movimento de união do Hip Hop se torna evidente para sua jornada e traz um novo sentimento para a disputa. Uma nova perspectiva para a disputa Estadual do maior duelo de rimas do Brasil.
Planos foram feitos juntamente com amigos e familiares para mais um duelo; agora não das rimas, mas sim, da batalha de votos. A votação foi acirrada durante todo o período. Compartilhamento via redes sociais, correntes em aplicativos de mensagens e a última cartada: a “Operação Kamikaze”, onde a panfletagem para conseguir votos tomou as ruas de BH. Com isso, Dias se classifica em terceiro para a disputa regional.
“Eu só estou aqui porque outras pessoas acreditam em mim. Não é porque eu ganhei a batalha, é porque esse ano eu tenho pessoas para representar, não só o meu sonho. Tiveram pessoas que falaram assim: ‘velho, você vai conseguir você é capaz’. Então eu tenho um sentimento diferente, eu não tô por mim, eu tô por outras pessoas”, afirma Dias.